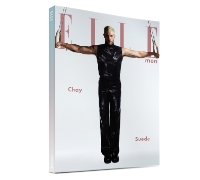O maior desfile do planeta
Inebriada pela batida do tambor, Erika Palomino se deixa levar pela magia das escolas de samba que, devidamente macumbadas, retomam sua relevância.

“Alô Brasil, alô mundo, O Carnaval voltou.”
Neguinho da Beija-Flor
Há muitas ressalvas diante do mundo das escolas de samba. Temas patrocinados; ligações com organizações das mais diversas; “celebridades” se achando maiores que as comunidades; ingressos caros afastando a população do sambódromo; burocratização, banalização e déjà vu; o samba enredo como um estilo menor, acelerado e acomodado para exibir na televisão, e a própria transmissão da TV, com seus clichês de emoção e verborragia. Críticas que já foram até tema de algumas escolas, como o Império Serranno, em 1982 (Super escolas de samba S/A).
Este ano, entretanto, foi diferente. Não somente por conta dos dois anos sem Carnaval, também por terem sido esses dois anos. Tudo ganhou contornos excepcionais, simbólicos, extraordinários. Reducionismos e pré-conceitos passando longe. E assim foi.
Um ano com dois carnavais? Talvez três, com os blocos passando em julho em São Paulo. Desfile das escolas de samba em abril? Esquisito.
Eu estava assim, sem animus (segundo o latim e o Google, a origem das emoções, da vontade, das ideias), até que vi no Youtube o começo do ensaio de rua da Estação Primeira de Mangueira, “a escola de samba mais amada do planeta”. Meu corpo começou a tremer e comecei a chorar. Conheço os sintomas; não ia ter jeito: este ano, eu tinha que estar na Sapucaí.
Com a alegria represada, a tristeza aumentada, a morte rondando as vidas das gentes, precisávamos do Carnaval. Mais: a gente precisava também da avenida. Só que até o maior desfile do mundo, o da Sapucaí, precisava recuperar sua relevância, e sambas que cantam contra o racismo, que enobrecem o povo preto, que saúdam os orixás e as forças da natureza, que celebram as divindades e entidades das religiões de matriz africana trouxeram o iorubá para o grito da galera nas arquibancadas e fazendo integrantes de todas, todas as escolas, baterem no peito, com orgulho.
“Canta, Beija-Flor, meu lugar de fala
Chega de aceitar o argumento
Sem senhor e nem senzala vive um povo soberano
De sangue azul, nilopolitano.
Mocambo de crioulo sou eu, sou eu
Tenho a raça que a mordaça não calou
Ergui o meu castelo dos pilares de cabana
Dinastia Beija-Flor”
(Empretecer o pensamento é ouvir a Voz da Beija-Flor)
Como elo para a magia, o tambor. A batida saída dos terreiros pelas mãos dos ogãs se tranformando em levada, em andamento para a escola passar (desde os tempos do Mestre André, que tocava para Tia Chica e depois ia para a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel) e este ano em toques espalhados pelas baterias que passaram (todas, quase todas, praticamente todas). O desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro foi uma grande gira.
E com Luiz Antonio Simas na cabeceira e na mente, com Exu abrindo os caminhos e o coração verde e rosa, cantei, saravei e dancei.
“O tambor”, escreve o historiador e cronista da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, “é a ponte mais sólida entre o terreiro e a avenida”. Ambos, segundo ele, representam extensões de uma mesma coisa: “instituições associativas de invenção, construção, dinamização e manutenção de identidades comunitárias, redefinidas no Brasil como invenções potentes a partir da fragmentação que a diáspora negreira impôs”.
No livro “O Ritmo das Ruas”, ele explica muita coisa, e também que “ao longo dos tempos, o samba foi, em larga medida, desafricanizado e desmacumbado para, já domesticado, ser digerido pela indústria fonográfica e cooptado pelo Estado como elemento do processo de construção de identidade nacional pelo consenso apaziguador da mestiçagem cordial”. Gênio. Quem está estudando a Semana de 22 pode catar isso.
“Um dia, meu irmão de cor
Chorou por uma falsa liberdade
Kaô Cabecilê, sou de Xangô
Punho erguido pela igualdade
Hoje, cativeiro é favela
De herdeiros sentinelas
Da bala que marca feito chibata”
(Resistência, samba do Salgueiro)
Falamos dos toques do quetu, do toque da cabula, do aguiré, dos ritmos do Congo e de Angola que invadiram a Sapucaí e o nosso peito. Coisas que também Pretinho da Serrinha lindamente comentava nas transmissões (salve o acolhimento que traz Maju, salve o querido Milton Cunha, o grande nome da moda, do samba e da sabedoria do Carnaval, salve as íntegras da Globoplay que não consigo parar de rever).
Junto da Sapucaí, como fiz nas melhores pistas de dança, muitas vezes fechava os olhos para sentir melhor as viradas, paradinhas, paradonas, bossas e criações rítmicas que jamais ouvira. Os mestres de bateria são os novos superstar DJs, ou os grandes maestros, da contemporaneidade do corre e que pega metrô. Conseguir ouvir os surdos, de primeira, de resposta, de terceira; as caixas, repiques, cuícas, tamborins, timbaus… Ouvir ao vivo uma boa bateria, para quem gosta de música no geral (e mesmo para quem gosta de música eletrônica) é uma experiência sensacional.
Pela quantidade de pessoas, já daria pra sentir o impacto. Cerca de 80 mil lugares no sambódromo, de 3 a 4 mil pessoas por agremiação, 13 escolas nos dois dias do Grupo Especial e mais o entorno, quem está trabalhando, quem não está ali mas faz parte daquele cotidiano, a economia formal e informal à volta. Matemática nunca foi meu forte, mas certeza dizer que não são os números, tão somente, que dão conta da característica única de um desfile. A energia daquilo tudo é algo de fato surreal, não se parece com nada. Indescritível. Seria um vexaminoso festival do lugar-comum caso eu sequer tentasse, aqui neste espaço. “A Mangueira é tão grande, que nem cabe explicação”, diz um dos sambas mais famosos da nação mangueirense. Então, como se diz por aqui, esquece.
A fantasia deixa todo mundo bonito. Emergem princesas, guerreiros… Pense em alguma representação e ela está ali, nos corpos e corpas que desfilam sua beleza e sua alegria diante do público em roupas de cores que desafiam pantones, como se inventadas naquela hora, nunca vistas, inéditas. Para quem é das modas ou mesmo para quem somente gosta delas, a belezura e o sacode são ainda maiores, porque cada roupa, cada figurino, tem uma função no enredo, ajuda a contar uma história. Na avenida, tudo tem um porquê. De deixar qualquer MET Gala acabrunhado.
É lindo quando a bateria para e a gente ouve a escola inteira cantando, mais lindo ainda quando as arquibancadas cantam junto. “Quem é de Oxossi é de São Sebastião. Arerê, Komorodé Komorodé, Arolé Komorodé”. Quando um samba pega, a cidade toda canta e ele entra para a antologia dos grandes sambas, que serão cantados por anos e anos, independentemente de qual escola a gente torce. Samba bom é samba bom. E quem é do samba, na real, ama o Carnaval e todas as escolas.
No desfile da Mangueira eu cantava tanto e tão alto que cheguei a perder o fôlego. O intérprete Marquinhos Art’Samba também, e ele foi atendido no alto do carro de som, recebendo oxigênio. Tem, por exemplo, ensaio de canto. Para garantir que todas as pessoas saibam não somente a letra do samba, mas sua melodia e o jeito que a escola canta. Que pode até mesmo mudar ao longo dos ensaios.
Quem desfila, ensaia. Diz uma das máximas do Carnaval. Mesmo quem participa das alas comerciais deve frequentar a quadra de sua escola, fazer parte, respeitar. Quando não dá mesmo, saber o samba e cantar a plenos pulmões é o mínimo. Das coisas mais especiais dessa temporada foi o ensaio de rua. Na avenida Nova, ou Avenida Estação Primeira da Mangueira, perto da estação Maracanã do metrô, às quintas, e domingos, integrantes, ritmistas, baianas, crianças, diretores de ala, de harmonia e de evolução davam uma volta na avenida, no mesmo tempo do desfile. Só a comunidade mesmo, distante do brilho, do glamour e das luzes do Palácio do Samba, que talvez seja um dos 10 lugares mais bonitos que já fui na vida. Tendo ao fundo o morro da Mangueira ao fundo (mais parecendo um céu no chão), o ensaio de rua trouxe a oportunidade de olhar bem no olho das pessoas, sentir sua alegria em estar ali, pensar em suas tristezas, em todas as pessoas e suas trajetórias, dores e atravessamentos.
Encerro essa longa edição da coluna salutando e agradecendo a Grande Rio e o histórico Carnaval em homenagem a todos os Exus, citando Estamira (ela, sempre) e reverenciando as encruzilhadas, abrindo os caminhos para novos tempos e boas notícias.
*Dedico a esta coluna a Joan Alvizi e Rose Elias, meus irmãos de muitos carnavais
Para ler conteúdos exclusivos e multimídia, assine a ELLE View, nossa revista digital mensal para assinantes.