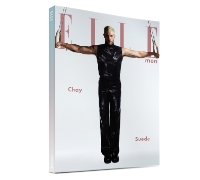Woodstock 99: não entender o contexto é um desastre total
Primoroso, novo documentário da Netflix expõe as razões do fracasso na tentativa de reedição do histórico festival dos anos 60.

“Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, é Esperto é aquele que aprende apenas com seus próprios erros. O tolo continua cometendo os mesmos erros de novo e de novo e nunca aprende com eles.”
Sri Ravi Shankar
Eu estou quase convencida de que o melhor da Netflix é realmente a sua grade de documentários. O mais recente lançamento, Desastre total: Woodstock 99, dirigido por Jamie Crawford (o mesmo diretor de O golpista do tinder), é mais um acerto, a começar pelo nome. Tem uma narrativa limpa, sem enrolação e nada tendenciosa, expondo através de depoimentos preciosos (de todas as partes envolvidas) um panorama que descreve perfeitamente o caos que caracterizou a pretensiosa e desprestigiada versão do maior evento de contracultura de todos os tempos: o Festival de Woodstock.
Em três episódios que totalizam cerca de duas horas e meia, Crawford choca o espectador com a riqueza de detalhes organizados de forma dinâmica e cronológica. Os que gostam de maratonar séries podem apostar nessa para o fim de semana. Mas aviso: não vão desgrudar os olhos e os ouvidos enquanto não chegarem ao final.
O fato é que, em 1999, eu era uma mãe e esposa dedicada à minha família recém-formada, que já contava com dois pequenos rebentos. Mas ainda suspirava quando lembrava de todas as histórias, lidas e ouvidas, sobre o surreal e transformador Festival de Woodstock. Nos três dias daquele caloroso final de semana de agosto de 1969, o line-up do evento reuniu desde Ravi Shankar a Jefferson Airplane, passando por Santana, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin e outros gigantes, tanto do mainstream quanto do underground da música que fazia a cabeça dos jovens verdadeiramente progressistas dos efervescentes anos 60.
Independentemente do belo resultado do evento, a ideia inicial era totalmente contra os princípios vividos pela juventude que o acompanhou ao longo dos três dias lamacentos de shows. Os idealizadores pensavam apenas em faturar, ganhar muito dinheiro, tanto em 69 quanto em 99. Fato.
E enquanto eu lavava algumas fraldas e amamentava minhas lindas crias, alguns senhores, cuja ambição era maior que o bom senso, acreditavam que podiam trazer ao mundo uma nova versão do lendário festival.
Alguns desses senhores foram idealizadores e articuladores do Woodstock em 69. Eram muito jovens na época e ficaram com a pecha de ousados, já que a falta de bom senso, até certo ponto, foi justificada pela pouca idade e inexperiência de vida e de negócios, e a opinião pública foi seduzida pelas belas cenas de paz e comunhão que pautaram o acontecimento histórico.
Esses jovens eram Artie Kornfeld, Joel Rosenman, Michael Lang e John Roberts, que, em 1969, estavam na faixa dos 20 e poucos anos. Apesar de ambiciosos, não tinham a menor noção do quanto o projeto que idealizaram cresceria e se tornaria o maior palco de manifestação e vivência da contracultura mundial, superando o antecessor que (dizem) os inspirou, o Festival Internacional de Música Pop de Monterey, realizado em junho de 1967, na Califórnia. Independentemente do belo resultado do evento totalmente guiado pelos ideais hippies de paz e amor, a ideia inicial era totalmente contra os princípios vividos pela juventude que o acompanhou ao longo dos três dias lamacentos de shows. Os idealizadores pensavam apenas em faturar, ganhar muito dinheiro, tanto em 69 quanto em 99. Fato.
A mentalidade daqueles jovens já era altamente voltada para o lucro em detrimento da transformação social que os movimentos sociopolíticos pregavam em 69, mas, ainda assim, eles acreditavam que a arte e a conexão entre as pessoas era a matéria-prima do festival. E estavam certos.
Cabe lembrar que, em 1969, os movimentos por direitos civis, o movimento feminista, LGBT, antistatus quo em geral estavam a todo vapor. O mundo vivia grandes movimentações sociopolíticas, e isso culminou na efervescência artística nas mais variadas formas. As pessoas não postavam sua indignação nas redes (que nem existia!). Elas vociferavam nas ruas, nos movimentos estudantis, nas fábricas, nas universidades, nos partidos políticos. Questionavam as tradições e costumes, confrontavam a validade das instituições conservadoras e experimentavam novas formas de organização social, muito conectadas com a ideia de solidariedade e tolerância às diferenças.
Os EUA viviam em plena Guerra Fria e se reafirmavam como soberania imperialista diante do mundo, exaltando sua potência socioeconômica através do way of life norte-americano, cuja mentalidade consumista era característica marcante.
Mas isso era severamente criticado por parte significativa dos jovens, que destoavam das práticas e métodos políticos, rejeitavam o american way of life racista e excludente dos EUA e se solidarizavam com as vítimas das desigualdades e das opressões que a sociedade norte-americana camuflava com os belos musicais da Broadway.
Essa juventude que se posicionava principalmente através da arte e de um estilo de vida avesso a esse cenário era o público majoritário do Woodstock de 1969.
E foi essa juventude que, no Woodstock de 69, driblou a ganância, ainda imatura dos jovens idealizadores do festival, com a força da contracultura que se uniu aos movimentos sociais e a outros setores destoantes da narrativa consumista e hedonista da sociedade norte-americana da época.
Nesse período, a despeito do grosso da sociedade que partilhava dos ideais reacionários e repressores, a arte que mais mobilizava as massas era realmente um produto de mentes pensantes e avessas ao que estava posto.
A música, a moda, a literatura, as artes cênicas, a dança, a arquitetura etc. eram um informante do estilo de vida e das ideias, com as ideias e o estilo de vida dos envolvidos.
Mesmo não vivendo esses tempos (nasci em 76), minha geração sabia que a força que emergiu ali foi muito maior e mais contundente do que uma mera manifestação que pregava a liberdade de corpos e mentes. Era um momento de posicionamento sério, engajado e comprometido com o que ocorria nas sociedades ao redor do mundo.
O verdadeiro estopim do movimento hippie, da contracultura e da luta por uma outra forma de ser e estar no mundo devidamente pautado por um discurso e prática pacifistas e tolerantes com as diferenças humanas.
Inicialmente, o festival de 69 receberia cerca de 50 mil pessoas. Foram vendidos 100 ingressos logo que o anúncio foi feito, mas a repercussão foi tamanha e a aderência tão irrestrita que esse número saltou para os cerca de 500 mil pessoas, derrubando de vez as vendas, porque não tinha “braço” para comercializar as entradas.
Mas nem tudo foi flower power, apesar da mentalidade pacifista da turma hippie.
Teve falta de comida, água e infraestrutura caótica e insuficiente para tanta gente. Houve mortes, pessoas passando mal por excesso de drogas, álcool e problemas de saúde agravado pelas condições precárias, sendo que não havia atendimento médico e dois partos improvisados foram feitos!
Mas toda essa previsível precariedade foi superada com o discurso pacificador e unificador entre as pessoas. Cerca de 400 mil pessoas cantando, dançando, se divertindo e se posicionando contra a violência, a supremacia, as opressões, a hegemonia etc..
O line-up contava com artistas que faziam parte da efervescência artística politizada, fomentando resistência através da música e sem estrelismos. Eles não formavam opinião, eles eram a opinião. E essa opinião era divergente em todos os sentidos.
Aquelas pessoas acreditavam que um mundo melhor era possível, e o festival marcou uma geração na história do mundo, reverberando ainda por muito tempo após aqueles três dias. Infelizmente, não foi tempo o bastante para educar as gerações vindouras e inspirar para além da moda (ou modismos).
E isso foi decisivo para o fiasco do festival de 99: o contexto sócio-político e a vibe que já se desenvolvia desde o começo da década de 90 eram, em 1999, completamente diferentes do que existiu na década de 60/70.
A geração Coca-Cola que cantou o saudoso Renato Russo foi uma geração de transição criada a partir do medo do retorno da ditadura, da repressão e da imprevisibilidade dos tempos que viriam, sobretudo na política. Russo descrevia as consequências de uma paralisia imposta à geração anterior, cujo pensar era perigoso e “o sinal esteve fechado para os que eram jovens”.
Esses pais e mães que pariram a geração pós-ditadura temiam que seus filhos vivessem os mesmos horrores que eles. Mas, se por um lado a permissividade e tolerância com a alienação é compreensível, já que a geração anterior experimentou na própria pele o preço da politização, por outro não podemos deixar de admitir que ela teve um ônus espontâneo. E que agora, nesse momento da história, se mostra com toda a fúria através de campanhas que clamam pela volta do autoritarismo, da ditadura, da limitação das liberdades individuais, enquanto exalta um consumismo desenfreado como sintoma do vazio e da falta de perspectiva futura.
Só que, dessa vez, o fiasco dos idealizadores, interessados apenas no lucro, conseguiu se superar. Nesse Woodstock já não havia mais como contar com o espírito pacifista e unificador que o caracterizou e o imortalizou na história contemporânea.
A geração Coca-Cola, com seu gradual distanciamento protetivo dos valores da contracultura, cresceu e pariu a geração que protagonizou o Woodstock 99. Os filhos da revolução não foram criados para a continuidade da revolução. Do flower power caminhamos para trás, voltando no tempo, rumo a um passado que já não era mais visto como inadequado, e sim desejado. O way of life norte-americano, antes rejeitado, agora ganha volume e estabelece um novo (velho) status quo, aliciando e entorpecendo mentes, criando uma normalidade trágica que admite a desumanização e se contenta com a indignação (sempre seletiva) diante da escalada grotesca de destruição das possibilidades de vida social saudável no planeta.
Só que, dessa vez, o fiasco dos idealizadores, interessados apenas no lucro, conseguiu se superar. Eles resolveram ressuscitar o Woodstock de 69, apostando nos mesmos valores e ideias como garantia de lucro certo. E daí surge o Desastre Total, documentário tão rico em detalhes e reconstituições do que houve na nova e fracassada versão do festival histórico. Nesse Woodstock já não havia mais como contar com o espírito pacifista e unificador que o caracterizou e o imortalizou na história contemporânea.
Realizado entre 22 e 25 de junho de 1999, na antiga Base Aérea de Griffiss, em Roma (não a italiana, mas a cidade do Estado de Nova York), o Woodstock de 99 contou com cerca de 250 mil pessoas e, assim como em 69, trouxe um propósito justo para o centro do festival: uma vigília pelas vítimas do Massacre de Columbine High School, ou seja, um apelo pela paz e pelo fim da violência.
Mas a falta de infraestrutura, a falta de segurança e a falta de bom senso dos idealizadores acordaram o gigante que não estava, assim, digamos, realmente adormecido dentro da juventude. E os três dias que seriam de festa se tornaram três dias de horrores, com anos-luz de distância do espírito do flower power e da contracultura que o mundo viu em 1969.
Mas é importante pontuar que o que se viu ali, por mais que doa dizer, é um retrato da geração que gerencia o mundo agora. Estamos falando da era pré-George Floyd, pré-Trump, pré-todas as aberrações machistas e imperialistas que nos parecem agora, insuportáveis. Estamos falando de uma juventude sem perspectiva de vida, da geração burnout/depressão/ansiedade, da era do narcisismo e do empreendedorismo das redes sociais.
Além da eclosão da revolta, até certo ponto absolutamente justificada, tivemos um festival de misoginia, com estupros públicos ocorrendo simultaneamente, e assédios descarados contra as poucas presenças femininas do line-up. Os organizadores trataram as pessoas como lixo e as pessoas devolveram o tratamento em forma de violência desenfreada e incontida, contra tudo e todos que ali estiveram, incluindo eles mesmos.
É disso que trata o novo documentário da Netflix, que estreou nessa primeira semana de agosto. O documentário é fenomenal, não poupando os entrevistados de perguntas espinhosas e confrontando informações de um jeito respeitoso, mas que dá ao público a oportunidade de formar a própria opinião e tirar as próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu nesse fatídico episódio, que foi uma desonra ao evento original.
Há quem diga que o Woodstock de 99 apagou a magia e ofuscou o brilho do festival de 69. Discordo veementemente.
Só serviu para mostrar que, mesmo quando estamos sob manipulação de mentes e forças gananciosas, a união e os bons propósitos são imbatíveis, mas, quando cedemos à pressão e achamos que nossa pífia indignação vai nos manter no controle da nossa agressividade, o resultado pode ser imprevisível.
Joice Berth é arquiteta, urbanista, escritora, feminista e apaixonada por uma boa série. É autora do livro O que é empoderamento, da coleção Femininos Plurais.
Para ler conteúdos exclusivos e multimídia, assine a ELLE View, nossa revista digital mensal para assinantes.